|
Bram Stoker e o pesadelo do sexo vitoriano
Chico Lopes
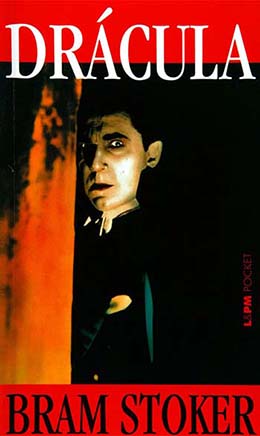 Tenho certeza
que a maioria das pessoas que viram o filme “Drácula de Bram Stoker”, realizado
por Francis Ford Coppola em 1992, não leu o livro que lhe deu origem. E não é de
espantar, porque o personagem clássico e estereotipado do Conde é o vampiro mais
conhecido que existe, virou substantivo, e a indústria cultural, em filmes,
gibis ou livros, aproveitou tanto a figura, tanto a diluiu, tanto a transformou
e a utilizou conforme modas de época e lugares, a coisa tanto se disseminou e
perverteu que pouca gente sabe que se trata de um personagem literário da era
vitoriana. Tenho certeza
que a maioria das pessoas que viram o filme “Drácula de Bram Stoker”, realizado
por Francis Ford Coppola em 1992, não leu o livro que lhe deu origem. E não é de
espantar, porque o personagem clássico e estereotipado do Conde é o vampiro mais
conhecido que existe, virou substantivo, e a indústria cultural, em filmes,
gibis ou livros, aproveitou tanto a figura, tanto a diluiu, tanto a transformou
e a utilizou conforme modas de época e lugares, a coisa tanto se disseminou e
perverteu que pouca gente sabe que se trata de um personagem literário da era
vitoriana.
Em 1922, ele foi o “Nosferatu” poético de Murnau, que se valeu do
livro de Stoker, mas teve que mudar nomes para evitar um processo da família do
autor. “Nosferatu” foi refeito com grande arte e beleza por Werner Herzog em
1979, numa versão-homenagem que considero até superior ao filme de Murnau. O
cinema teve inúmeros Dráculas, sendo muito lembrado (e hoje acho que pouco
visto) o hollywoodiano de Bela Lugosi, mas acho que, para a minha geração, o
mais marcante foi mesmo o vivido por Christopher Lee nas produções
sanguinolentas da Hammer.
Quando Coppola decidiu fazer seu filme, decidiu ir
à raiz, filmar o livro, citado por muitos e conhecido por poucos. Fez um filme
visualmente grandioso por um lado e corroído por outro por interpretações
fraquíssimas de Keanu Reeves e Winona Ryder como Jonathan e Mina. Consagrou Gary
Oldman no papel-título.
Pois bem: faz tempo que o mercado editorial
brasileiro oferece esse “Drácula” de Stoker em formatos variados, até em pocket
books, a preços acessíveis, e sempre com capas que têm um apelo comercial direto
– numa delas, ressurge o próprio Bela Lugosi, e, noutra, vemos um quadro
vitoriano do vampiro avançando sobre o pescoço de uma dama “Belle Epóque”
circundado por uma moldura de pedra tumular. Nada é sutil nessas coisas, nem se
pode esperar sutileza de um ícone da indústria cultural que já se manchou de
“kitsch” quinhentas mil vezes. O público que responde a isso ou tem aquela
sofisticação de quem curte o “camp” conscientemente ou se deixa contaminar pelo
mau-gosto mesmo, até porque histórias de vampiros já fazem parte da vala comum
da indústria cultural degenerada e, para esses leitores, os álibis da
intelectualidade para apreciar coisas ruins sem se sentir diminuída não fazem a
menor diferença.
Arrogância e ingenuidade do racionalismo
Quanto
ao romance, a técnica de Stoker é revezar os pontos de vista dos personagens
principais (e mesmo de alguns secundários) da trama através de depoimentos,
gravações, diários etc., exagerando até nessa alternância de vozes. Dá a
entender que aqueles vitorianos – a narrativa transcorre na Londres do século 19
– escreviam compulsivamente, queriam pateticamente explicar tudo, numa
vertiginosa atração pela força do discurso racional, pelo cientificismo. A
racionalidade se aguça e se mostra com toda a sua arrogância e sua ingenuidade
ao lidar com um fenômeno absolutamente irracional. Quanto mais perplexidade,
mais palavrório. Coppola adotou um tanto disso no filme – cartas foram
aproveitadas em cenas de grande rebuscamento visual, sobrepostas a imagens de
ação, narrando o filme com ares anacrônicos propositais.
O que é de fato
interessante no romance de Stoker é o seu erotismo descabelado. Stoker era um
subliterato esforçado, não mais, e fez de seu livro um torvelinho de adjetivos,
diálogos pomposos e artificiais de fazer rir, dramalhão e pieguice, mas tinha um
senhor material nas mãos. O assunto era sexo reprimido, que mais? Ao aterrissar
em Londres, o velho morcego clichê vai atacar primeiramente Lucy, amiga de Mina,
que tem na fila três pretendentes à sua mão e vive escrevendo a Mina cartas que
dão a entender que os homens não lhe saem da cabeça – péssimo para uma dama
vitoriana só “pensar naquilo”, e por isso Drácula é uma materialização tanto de
seus desejos quanto das forças punitivas contra as quais este se debela. Uma
mulher tão claramente desejosa de homens era uma coisa monstruosa, e, pela
lógica repressiva, tinha que se deparar com um monstro que a um só tempo a
satisfaria e a tornaria uma pária morta-viva.
É um ponto óbvio – qualquer
estudo posterior mais cuidadoso e corajoso notou a correlação entre sexo e
Drácula. Mas o erotismo se esparrama realmente por coisas que não foram lá muito
comentadas, porque tampouco o livro era muito conhecido no Brasil. Drácula é
como alguma coisa espiada pela fechadura, deixa todos agitados e loucos, por
razões que vão do pavor ao fascínio com uma rapidez atordoante. A reação é
procurar explicá-lo, situá-lo, classificá-lo, mas tudo que se obtém é um reforço
consistente da superstição mais que do cientificismo, já que ele habita regiões
emotivas e não racionais, fáceis e inteligíveis. Ele é interessantíssimo em suas
metamorfoses, poético em suas aparições como névoa ao luar. É o mais puro Id, já
que o livro é um banquete para freudianos, e as associações fálicas foram feitas
tão insistentemente que a gente, entulhado de leituras psicanalíticas como
ficamos neste século, tendemos a desdenhar tudo com um risinho sabido. Mas há
ainda muita coisa realmente assustadora, fantasias paranóicas e sexuais que não
são nada inocentes – há, por exemplo, uma constante vampirização de criancinhas,
que Coppola reproduziu em seu filme, como se as fantasias pedófilas também
rondassem, inquietantes, aquelas cabeças transtornadas. O horror ultrapassa os
limites.
No filme de Coppola, Van Helsing, o caçador-protótipo de vampiros,
foi vivido com um exagero de canastronice tão pronunciado de Anthony Hopkins
que, por vezes, a gente ficava irritado com os abusos diretos do diretor. Hoje
revista, a produção parece se sustentar mesmo é pela interpretação de Gary
Oldman, que deu muito de si e se ajustou perfeitamente ao papel, e pela
qualidade dos delírios visuais, só imagináveis e realizáveis por um diretor com
grande orçamento. A Mina de Winona Ryder e o Jonathan de Keanu Reeves
prejudicaram demais o filme, não se sustentam. O figurino de Eiko Ishioka e a
música de Wojciech Kilar fazem milagres pela produção. A música, especialmente,
tem uma pungência romântico/macabra, em tons a um só tempo mórbidos e sensuais,
que provavelmente fez mais pelo filme que o trabalho de muitos dos atores de um
elenco disparatado. Mal começa, entramos por completo na atmosfera. Deve ser das
melhores trilhas de cinema já feitas, sem dúvida alguma.
Na verdade, o livro
“Drácula de Bram Stoker” precisa ser lido como uma relíquia sociológica muito
curiosa. É um grande livro ruim. Stoker, vivo hoje em dia, estaria nas fileiras
de Stephen King, escritor de desvairada imaginação que tanto pode ter sutilezas
quanto mergulhar no mais abjeto comercialismo estúpido para adolescentes que
procuram banhos de sangue nos livros. A narrativa é quadrada, para os padrões de
hoje em dia, mas é apta para satisfazer os leitores de best-sellers, que nunca
exigem piruetas vanguardeiras nem se sentem na obrigação de entender as mutações
pelas quais a estética literária passou desde a publicação do romance.
Mas
esse grande livro ruim tem seu mérito: criou um mito. Não se pode dizer o mesmo
de um sem-fim de livros bem-intencionados e escritos com muito mais talento,
equilíbrio e sensibilidade.
Direitos Reservados.
É proibida a reprodução deste artigo em qualquer meio
de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização do autor.

Chico Lopes é escritor e pintor, 72 anos, publicou mais de 50 livros entre próprios e traduzidos. Cinéfilo, foi por 18 anos comentarista de filmes do Cinevideoclube do Instituto Moreira Salles de Poços de Caldas. Mora em Poços de Caldas desde 1992. Recentemente, recebeu o troféu "Escritor Sulfuroso", representando a literatura de Poços no Flipoços 2024.
__________________________
Direção e Editoria
Irene Serra
|