|
A escrita como Orgia Perpétua é o que nos resta

Chico Lopes
Um livro
interessante, que é um dos meus companheiros de cabeceira há décadas, é “A orgia
perpétua – Flaubert e Madame Bovary”, de Mario Vargas Llosa.
Quem gosta
de literatura e gosta de saber quais livros alguns escritores de fama elegem
como predileções, revelando os motivos destas em tintas confessionais,
encontrará quase um modelo desse gênero no livro de Llosa sobre o romance também
paradigmático da que se convencionou chamar “escola realista”.
Llosa
começa dizendo que, numa certa época, residindo em Paris, ao sofrer a tentação
do suicídio, se purgava lendo o trecho de “Madame Bovary” em que a heroína, já
sem outra saída diante do fracasso de seu casamento e de seus amores
extraconjugais, endividada sem possibilidade de pagar, toma arsênico. A
descrição dessa cena é um dos primores cruéis da arte realista de Flaubert.
Ninguém que a tenha lido se esquece do “gosto de tinta” que secava a garganta da
infeliz. Temos que acompanhar sua longa agonia, as atrocidades que seu organismo
padece, como se o mundo medíocre que a cerca a punisse dessa maneira por ter
ousado sonhar. Os sonhos de grandeza romântica de Ema Bovary, sua luta obstinada
contra um casamento que seria satisfatório só para uma mulher desprovida de toda
imaginação, acabam ali, naqueles estertores pavorosos, e sentimos o peso de uma
injustiça ilimitada contra aquela carne. Mas é um dos prodígios da arte de
Flaubert: ele queria nos fazer odiar a estupidez pequeno-burguesa com violência,
e precisava de um mártir para isso.
Cumplicidade com Llosa
Confesso que Llosa não é dos meus escritores favoritos, e a ironia é que
esse livro sobre Flaubert é dele o que mais gosto, porque “Madame Bovary” sim, é
um dos cinco livros que acho fundamentais na minha vida, que relerei sempre.
É impressionante como os clássicos reabrem em nós esconsos emocionais nos quais
nos refugiamos sempre. É como se, relendo-os, tendo já vivido por procuração
aquelas intensidades dramáticas de vidas fictícias, tivéssemos, de algum modo,
criado latências semelhantes, pequenas entidades psíquicas de certa autonomia
que disputam com nossas partes mais conhecidas e racionais um lugar na nossa
personalidade total.
Com o passar do tempo, o apego a certos livros é quase
uma declaração de misantropia: eles são mais interessantes que as pessoas reais
que nos cercam. Num livro muito relido, reencontro criaturas que são para mim
mais reais e interessantes que as pessoas que conheço ou que posso encontrar,
digamos, numa festa ou numa reunião social. Iluminam minha vida, fazendo-a mais
ampla, mais geral – num certo gesto ou numa fala empolada, é possível reconhecer
o farmacêutico Homais, noutro, o médico de província, esse pobre diabo Bovary,
com quem Ema se casou, e no sujeito arrumadinho, correto e insípido, que quer
“subir na vida”, o apagado Leon.
Quanto a Flaubert, tenho-o em alta conta
por pregar, acima de tudo, a integridade da arte contra ideologias políticas e
outras tantas bobagens mundanas e exteriores que só fazem mal ao verdadeiro
escritor.
Pai de todo o realismo que hoje conhecemos já em formas diluídas,
mas não esgotadas, Flaubert nos disse o que mais nenhum escritor digno deste
nome esqueceu: que o autor está na obra, inevitavelmente, pouco importando onde
e como – mulher, homem, hipopótamo ou borboleta –, visto que tudo que importa é
o estilo, a criação, a vida que o texto ganha com o talento e a imaginação
empenhados na tarefa de captar e transfigurar.
Disse uma frase célebre: “Os
bons sentimentos não dão boa literatura”. Ambígua, a frase é menos compreendida.
Sua validez se ergue quando vemos, sucessivamente – e hoje em dia, na enxurrada
de mediocridade que se publica – a quantidade de livros ruins escritos com
“coração” e “boas intenções”. E disse: “Todos os assuntos são indiferentemente
bons ou maus, conforme a maneira com que são tratados, e os que parecem mais
vulgares podem tornar-se os melhores”.
Llosa se rende à personagem Ema, como
todos já nos rendemos alguma vez. Tem por ela uma paixão que se revela na
maneira como vai citando o Flaubert fetichista de sapatos femininos e outros
pormenores. Mostra como, precursora involuntária do feminismo, Ema comanda o
tímido escriturário Leon nas ações eróticas, destemida e sem moralismos. Quando
fala da cena da carruagem, em que na pena discreta e insinuante de Flaubert, se
consuma obliquamente uma relação sexual, abre-nos os olhos para a verdade de que
o melhor sexo em livros é aquele em que a sugestão e a insinuação prevalecem.
Ema não é feliz com seus amantes. De Rodolfo Boulanger, fazendeiro rico e
afetado, passa para o escriturário Leon. Os dois são tão medíocres quanto seu
pobre marido, cada um ao seu modo, e só lhe são superiores, a seu ver, porque,
afinal de contas, não são ele, o pobre ser humano incumbido de representar o
odioso papel de marido limitado para a eternidade das Letras. Llosa observa que,
na tentativa de ser livre, ela se masculiniza, e tinha que se masculinizar para
poder fazer de Leon um amante à sua altura, já que ele era quase “feminino”, de
tão fraco.
Conheceremos quem é Boulanger, o fazendeiro sedutor, no ato da
elaboração daquelas cartas alambicadas, que destina a todas as incautas que
conquista e das quais, mais tarde, enfastiado, precisará se livrar. A cena em
que se revela completamente a sua fraqueza de caráter é aquela em que Ema lhe
aparece em casa, desesperada, para rogar que a ajude a pagar suas dívidas
estranguladoras com roupas e outros luxos. Ele se revela, afinal, apenas um
cafajeste que conquista mulheres e as contabiliza para a sua vaidade e, que na
hora das dificuldades, não passa daquilo que é: um proprietário de terras sovina
e bem “realista” na questão de preservar o bolso. O que ele faz é, literalmente,
abrir a porta do suicídio para a sua ex-amante.
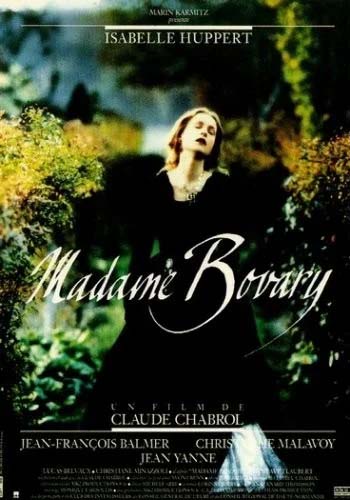
Traidora
ou traída?
Não sabemos se essa mulher, que traiu seu marido e traía o
papel tradicional de esposa e mãe (quando a filha lhe nasce, acha-a feia,
despreza-a; maternidade não é seu forte), foi uma traidora ou foi a grande
traída. Sua grandeza, como observa Llosa, está no fato de ser uma perdedora por
antecipação – o que ela quer, a sociedade que a cerca jamais poderá lhe dar, mas
ela é maior, mais generosa, mais livre que suas circunstâncias, e terá que pagar
caro por isso. Ema, que Llosa compara ao Quixote de Cervantes, acreditou demais
nos romances piegas que lia e decidiu que a realidade tinha que se submeter a
eles, assim como o Cavaleiro da Triste Figura quis fazer com seus romances de
cavalaria. Querer que a quimera seja maior que a vida todos sabemos no que dá.
O eco de “Madame Bovary” na contemporaneidade não pode ser subestimado: quem
é não perdeu seu romantismo em contato com os malogros da realidade? O romance é
eterno um tanto devido a isso: revela que não há saída para sonhadores, se estes
sonhadores persistem em tornar reais seus sonhos mais generosos, mais livres, se
não são cínicos, não se acomodam ou não sabem como negociar com os limites da
realidade. O malogro os espera em cada curva, e o malogro final pode ser
devastador.
Pai do realismo, Flaubert vinha na verdade do romantismo
literário, e, para reforçar o quanto dele havia em Ema Bovary, confessou: “Crêem
que eu seja apaixonado pelo real, enquanto o detesto: pois que por ódio do
realismo é que empreendi esse romance...”
É uma confissão crucial: o artista
verdadeiro é um inimigo completo do “realismo” vulgar, qual seja – de uma vida
pequeno-burguesa, limitadora, na qual, por covardia, se racionaliza a mesquinhez
e se ataca a grandeza dos “românticos” que dela fogem, tachando-os como “sem
juízo”. O que nos pede a “vida real”, ou essa criação ideológica tão típica de
gente sensata, comedida, adaptada às circunstâncias? Que renunciemos à
desmesura, ao sonho, à aventura. Pede que, em suma, sejamos conformados e
filisteus.
Flaubert era artista, acima de tudo: sabia que, esmerando-se em
produzir um livro quase maníaco na sua profusão de detalhes realistas, produzia
era um protesto contra um mundo detestável, raso, mesquinho, e queria fazê-lo
com um máximo de eficiência. Tomado por um realismo passional, queria era,
através da apreensão precisa do mundo, perpetrar uma denúncia de sua
irremediável pequenez. Ele conseguiu: odiamos todos esses arautos da vida
pequena, sensata, provinciana (médicos ineficientes e esforçados, farmacêuticos
pedantes e cheios de preconceitos, sedutores vagabundos com suas pieguices
calculadas) com acentuado vigor ao relermos seu livro fabuloso: todos os
artifícios com os quais as vidas limitadas se disfarçam diante de nós caem por
terra ao lembrarmos da lucidez com o que o escritor os desmistificou.
Sabemos, pelas informações que Llosa vai pinçar em sua vida pessoal, sua
correspondência, o quanto Gustave odiou as limitações vulgares de seu mundo,
quanto fugiu dele, com auxílio do dinheiro da mãe. Foi um burguês também, mas
contrito, desesperado, porque tinha que conviver com algo que em si era maior
que qualquer burguesia: o apetite pela arte.
Para combater o tédio e a
mediocridade de um mundo utilitário e sem um pingo de grandeza e aventura, tinha
só uma solução: “O único meio de suportar a existência é despojar-se na
literatura como numa orgia perpétua”.
Creio que, até hoje, não existe outra
para todos nós.
Direitos Reservados.
É proibida a reprodução deste artigo em qualquer
meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização do autor.

Chico Lopes é escritor e pintor, 72 anos, publicou mais de 50 livros entre próprios e traduzidos. Cinéfilo, foi por 18 anos comentarista de filmes do Cinevideoclube do Instituto Moreira Salles de Poços de Caldas. Mora em Poços de Caldas desde 1992. Recentemente, recebeu o troféu "Escritor Sulfuroso", representando a literatura de Poços no Flipoços 2024.
__________________________
Direção e Editoria
Irene Serra
|